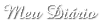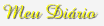UMA ESTRANHA! Eu não reconhecia aquela mulher que repousava naquele caixão. Parece estranho, a chamei de avó a vida inteira, mas não reconhecia aquela expressão que havia se eternizado em seu semblante. É verdade, passei anos da minha vida perto daquela mulher. Fui um bebê, fui criança. Levei palmadas. Chorei. Sorri. Briguei. Brigamos. E brigamos. Brigamos até eu crescer. Até eu sair de casa. Até formar meu próprio lar. E ali, estranhamente, ali jazia uma mulher que eu não sabia mais dizer quem era. Na verdade, talvez, eu nunca tivesse sabido. Eu a conheci como minha avó – uma avó pouco convencional, que, apesar de ter abraçado a vida conservadora, não gostava de tricotar, não gostava de cozinhar e vivia fazendo caretas para me assustar – mas não sabia muito além do que as fotos me diziam. Sabia que havia se casado cedo, como de costume na sua vida no interior no início dos anos 1940. Sabia que gostava de brigar, de implicar. Que odiava mulheres, principalmente, eu e minha mãe. Que via novelas. Que gostava de ouvir rádio. Mas, nada além disso. Nada que explicasse aquela expressão póstuma. Não sabia muito sobre sua trajetória. Sobre o que, de fato, fazia-lhe ou fez vibrar. Se é que um dia algo lhe fez vibrar. Mas sabia como haviam sido seus últimos dias. Não, não saberia dizer quando, em vida, vi-lhe sorrindo, como estranhamente esboçava em seu leito de morte. No fundo, eu há muito não a reconhecia. Não, não desde que uma doença degenerativa lhe acometeu. Começou silenciosamente, aos poucos, roubando pequenos pensamentos. Começou colocando as roupas sujas na geladeira, ao invés de no cesto. Passou a se perder dentro da casa que ela mesma havia construído. Alguns meses e logo eu e minha mãe nos vimos obrigadas a dividir a casa com ela. Todos aqueles anos de brigas e de raiva. Anos nos chamando de “vadias” haviam se convertido em estranhos momentos com uma mulher que eu chamava de avó, mas que não reconhecia como a mulher amarga que me assustava quando criança. A doença lhe levou lembranças de 75 anos de uma vida. De uma vida que, pelo que compreendi, havia lhe ensinado a não sorrir. A doença lhe fez esquecer do ódio, das tristezas, das “vadias”, e cedeu lugar para momentos que fizemos bolos sem receita. Os últimos dias dela haviam nos rendido conversas abstratas. Uma gargalhada que nunca havia ouvido na vida. Rendeu-nos, inclusive, um abraço de uma pessoa que eu mal podia saber que existira. Naqueles momentos, pude compreender, ao fitar aquele sorriso petrificado. Não era a avó que aprendi a amar. Era ela, uma mulher de 75 anos que, enfim, havia sido ensinada a amar. Júlia Boor Nequete
Enviado por Ilda Maria Costa Brasil em 03/06/2018
Copyright © 2018. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Tela de Claude Monet